Economia colaborativa e a expansão do eu
Nossa identidade é construída por várias fontes. Você é o lugar onde nasceu, o que lê, o que posta no Facebook, o que faz quando ninguém está olhando. A importância destas fontes transita e evolui durante os séculos. Hoje, somos predominantemente o que consumimos e o que aparentamos ser. Mas o poder do consumo é ainda limitado por barreiras físicas (como a resistência do meio ambiente), e financeiras (que demandam outras formas de consumo, de expressão de identidade).
Hoje, estar em algum lugar não significa estar presente. Antes da Internet tomar conta das nossas bolsas, bolsos e pulsos, a nossa atenção se concentrava onde estávamos presentes fisicamente. A cena se repete nas mesas de bares com amigos checando o Whatsapp, nos shows com milhares de telas apontadas para o palco postando no Facebook e nos restaurantes com a comida sendo apreciada pelas lentes conectadas ao Instagram.
Essa dicotomia entre o estar físico e mental corrompe a fluidez da formação identitária. Pertencer a um lugar, a uma nação, significava muito mais. O “de onde eu vim” exercia um nível de identificação primária, mas a globalização e suas tecnologias estão rapidamente deslocando esse centro. Se você mora em São Paulo ou no Rio de Janeiro, quem acha que tem mais identidades culturais em comum com você: pessoas que exercem a sua mesma profissão e que estão em grandes centros como Nova York ou pessoas que moram em pequenas cidades no interior do seu próprio país?

Com essas e outras representações mudando rapidamente, as pessoas passam a ser descentradas não apenas do mundo, mas também de si mesmas, ou seja, suas identidades não giram em torno de um “eu” coerente. Muitos são os nomes dados para essa nova era que surge com a crise de identidade — pós-modernidade, hipermodernidade, modernidade líquida —, ilustrando esta mudança do comportamento individual, que antes era sólido e imutável, e agora é variante, adaptável, com múltiplas identidades.
Onde estamos: identidade pelo consumo
Se antes éramos quase predestinados às identidades culturais do lugar em que morávamos, da religião de nossos pais e do gênero em que nascíamos, hoje é notório que nossa concepção identitária é muito mais plástica e frugal. Somos como estamos.
O consumo é agora parte da construção do eu. Ao consumirmos, passamos os valores que são atribuídos aos produtos para nós mesmos. Na moda isso é claro: é clássico ser Chanel e ousado ser YSL. Mas essa construção não necessariamente implica a compra de objetos ou de serviços de luxo, que investem mais na exposição da identidade que em sua transmissão. Assim, consumir um filme baixado via Torrent ou uma bolsa com design pirateado pode suprir necessidades simbólicas tanto quanto as versões originais.
Somos enxergados pelos estereótipos que são dados ao que gostamos. A Mônica que gosta de Godard e o Eduardo que adora jogar futebol de botão podem, então, ser vistos como a “intelectual” e o “infantil” por um, mas como a “nerd” e o “divertido” por outro. Ao criar identidade a partir do que se consome, cria-se um enorme espectro de eus, muitas vezes paradoxais, que podem ser claros para o indivíduo, mas não para a sociedade. Assim, tendo em vista que o consumismo pode possuir valor na construção da identidade, a mentalidade do indivíduo passa de “eu posso?” ou “eu preciso?” para “eu quero?” ou “eu sou?”.
“O homem necessita suprir não somente suas necessidades físicas, mas também suas necessidades simbólicas.”
— Pierre Bourdieu
Para onde vamos: economia compartilhada
A liquidez produzida pela pós-modernidade levou o relacionamento das empresas com os consumidores a outro patamar. Mais do que nunca, o consumo está fixado à identidade. Porém, a capacidade de expressão pelo consumo é limitada fisicamente, pelos recursos naturais e capacidade de produção da indústria, e economicamente, já que nem todo mundo pode comprar o que lhes supre simbolicamente.
O documentário The True Cost mostra como o movimento de fast fashion nos liberta para nos expressarmos através da moda de forma mais economicamente acessível, mas ao mesmo tempo causa enormes problemas na medida que a produção é terceirizada para países com leis brandas para proteger seus trabalhadores.
Economia compartilhada, colaborativa, sharing economy. Se você já se hospedou pelo Airbnb em vez de um hotel, usou o Tem Açúcar no seu bairro ou passou um dia em um coworking, você já faz parte dessa economia, que tem por base o acesso e não a compra de um produto ou serviço.
Serviços de pay as you go, em que pagamos uma quantia para usarmos algo por um tempo limitado, como o Uber ou o Netflix, não fazem parte da economia colaborativa, já que envolve uma negociação somente com uma empresa, sem ninguém colaborando ou compartilhando na outra ponta. Mas também não podemos tirar seus méritos. Ambos exemplos sustentam uma economia que tem o potencial de diminuir os estragos causados no meio ambiente, baratear produtos e serviços e, consequentemente, diminuir o peso que temos — no bolso e na consciência — ao usar algo.



Claro que nem todas as consequências disso são vantajosas em determinados contextos. Nós somos uma sociedade de consumo, a maioria dos empregos está pautado no crescimento da produção e no aumento das vendas. Mas o fato é que, por mais que se tente frear esse tipo de iniciativa, ela é uma força irreprimível, já que, competitivamente, é muito melhor.
Dos ludistas aos taxistas que protestam contra o Uber, o enredo se repete. Historicamente os trabalhadores sempre tentaram barrar mudanças bruscas na indústria para assegurarem seus empregos, mas esses esforços raramente exercem algum efeito de longo prazo.

Construímos nossa identidade pelo que consumimos, já que passamos os valores atribuídos das coisas para nós mesmos. Ao termos acesso a mais coisas, e sendo elas ainda mais descartáveis, criamos uma identidade exponencialmente mais fluída, mais flexível, mais compatível com nós mesmos. Expressamo-nos melhor à medida que temos mais acesso. Esta é uma das grandes disrupções que a economia compartilhada trás.
Nossa identidade já foi acreditada como predestinada por Deus, depois passou a ser centrada no homem — e em seu lugar, cor, credo — e hoje é refletida pelo que temos e aparentamos ser. Com a economia colaborativa, é de se imaginar a maior flexibilidade que essa identidade terá, afinal poderemos englobar no nosso universo uma quantidade muito maior de “coisas” que nos simbolizam. Não somos o que temos, mas o que acessamos.
Nossa identidade é construída por várias fontes. A importância destas fontes transita e evolui durante os séculos. Hoje, somos predominantemente o que consumimos e o que aparentamos ser. Hoje, somos como estamos e o consumo é parte da construção do eu. Ao consumirmos, passamos os valores que são atribuídos aos produtos para nós mesmos. A mentalidade do indivíduo passa, então, de “eu posso?” ou “eu preciso?” para “eu quero?” ou “eu sou?”.
Mais do que nunca, o consumo está fixado à identidade. Porém, a capacidade de expressão pelo consumo é limitada fisicamente, pelos recursos naturais e capacidade de produção da indústria, e economicamente, já que nem todo mundo pode comprar o que lhes supre simbolicamente.
Acompanhando a liquidez da pós-modernidade, desponta a economia compartilhada. Ao termos acesso a mais coisas, e sendo elas ainda mais descartáveis, criamos uma identidade exponencialmente mais fluida, mais compatível com nós mesmos. Expressamo-nos melhor à medida que temos mais acesso.
Nossa identidade, que antes era acreditada como predestinada por Deus, passou a ser centrada no homem e em seu lugar, cor, credo e hoje é refletida pelo que temos e aparentamos ser. É de se imaginar a maior flexibilidade que essa identidade terá, afinal poderemos englobar no nosso universo uma quantidade muito maior de “coisas” que nos simbolizam. Não somos o que temos, mas o que acessamos.
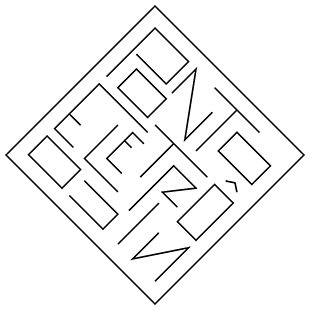



Comente